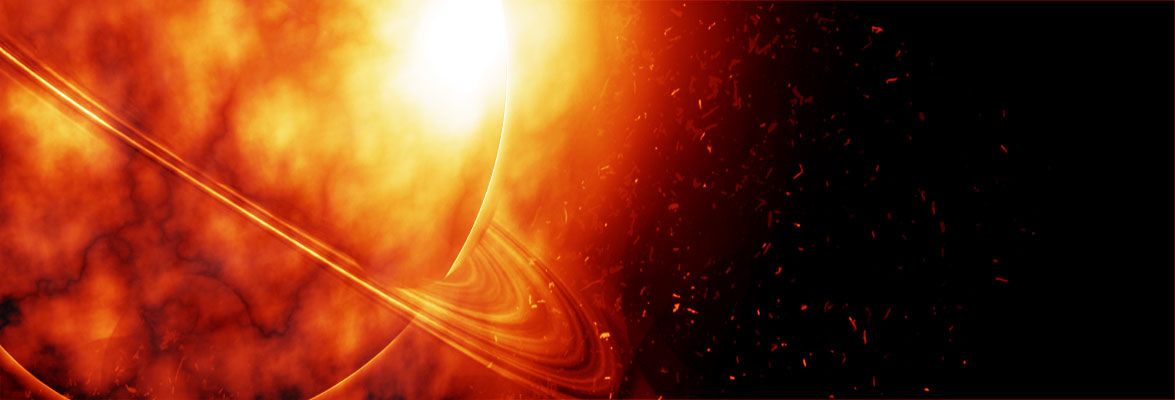[RESUMO] Autora descreve a composição, as formas de organização e as demandas de protestos que se multiplicaram em universidades dos EUA nas últimas semanas. O movimento têm semelhanças com Maio de 68, as manifestações contra a Guerra do Vietnã e o Occupy Wall Street e, ao ser tratado como um inimigo potencial por envolver temas islâmicos, pode se multiplicar ou levar à radicalização de seus participantes, o que pressiona Biden a poucos meses da eleição presidencial.
Um largo e longo pano branco apareceu no gramado durante o dia. Converteu-se, ao escurecer, em um tapete que recobriu toda a extensão da escadaria da maior biblioteca do campus. Trazia escrito, em letra de mão, os nomes dos palestinos mortos nos primeiros ataques israelenses à Faixa de Gaza. Manifestantes se revezaram ao microfone por horas até lerem todos. Foi em Harvard em 15 de novembro.
Dias depois, veio a resposta. No mesmo gramado, ativistas pró-Israel enfileiraram mesas decoradas para festa infantil. Em cada prato, uma pequena vela. Em cada cadeira, com a tarja “sequestrada”, o nome e a foto de uma criança israelense refém do Hamas.
Esses protestos de alta carga emocional e baixa adesão surgiram em várias universidades desde que Israel avançou sobre Gaza. Apenas nas últimas semanas galgaram à plena atenção midiática, mas vieram crescendo pari passu com o número de vítimas.
A ACLED (Projeto de Dados de Eventos e Localização de Conflitos Armados, na sigla em inglês) contou, de outubro passado a este abril, 2.484 manifestações pró-Palestina. Aconteceram no país todo, mais bojudas na Califórnia e em Nova York e estados vizinhos.
Já os de agenda inversa nem bateram o quarto disso: 563. Amontoaram-se apenas nas duas costas. Um lado é maior que o outro, mas tamanho não impede que movimento e contramovimento se enfrentem.
Manifestantes
É protesto pró-Palestina, não protesto de palestinos. Embora feições e indumentárias árabes sejam constantes, há latinos, negros e brancos —mescla étnica e homogeneidade de posição social. A maioria das universidades onde se protesta é privada. Nas de reputação tão alta quanto suas anuidades, quem frequenta é a fração superior da elite social. Há bolsas, mas em número insuficiente para democratizar o perfil dos estudantes.
Nos acampamentos, estão graduandos e pós-graduandos sobretudo dos cursos de humanidades. É o usual. Nessas áreas, a política é assunto de aula e potencial carreira. Futuros políticos profissionais se treinam em protestos.
Os organizadores são pequenos coletivos independentes uns dos outros, operando em simultâneo, sem domínio de nenhum. Estão conectados em rede transnacional sob alguns nomes guarda-chuva, como Estudantes pela Justiça na Palestina. Não é movimento unificado, mas é protesto coordenado.
Há também os aderentes. O grosso da estudantada está em boa e má hora para protesto. Acabou o frio que desanima dormir em barraquinhas, mas soa o gongo das provas —é o fim do ano letivo. Dividem-se entre o engajamento presente e o diploma futuro.
Muitos professores apoiam, e manifestos se multiplicam. Nem sempre de endosso à pauta, mas invariavelmente pelo direito de protestar e pela saída da polícia dos campi. O suporte toma a forma de vaquinhas para pagar fiança de presos, acolhida de estudantes em casa e participação em cordões de proteção aos acampamentos. Vai aí a pitada de cultura local, o gosto pelos uniformes: os voluntários trajam coletes laranjas fosforescentes.
Outros movimentos e pequenos partidos de esquerda se apresentam, assim como um pedaço dos democratas, que racharam no assunto. Nos vídeos, rostos veteranos no ativismo, como os de Seattle em 1999, e no Parlamento, como aspirantes a cargo eletivo ou à celebridade. Estão meio dando força para a meninada, meio garimpando eleitores e seguidores.
Organização
Cada protesto é único, mas são todos da mesma família e alguma parecença com parentes se guarda. Na demografia manifestante —os estudantes universitários—, lembra os de Maio de 1968. Pela agenda —o antibelicismo—, evoca os contra a Guerra do Vietnã.
No entanto, à medida que extrapola a fronteira, se assemelha aos primos de 2011, Occupy Wall Street e 15M espanhol. Parentesco evidente no uso do estilo de ativismo autonomista.
Lá estão as tendas, a divisão horizontal de tarefas, a ausência de liderança formal, a garantia de protagonismo feminino, pronomes inclusivos, jograis e performances artísticas. Somam-se lenços negros, hijabs e máscaras anti-Covid, em negação ao individualismo e meio de escape da identificação policial. Em alguns campi, como Columbia e Cal Poly Humboldt, a tática black bloc compareceu.
A semelhança entre as ocupações não se deve à liderança unificada, mas à adesão comum ao mesmo estilo. A nova geração de ativistas à esquerda mundo afora abraçou o autonomismo.
Demandas
“Disclose, divest, we will not stop, we will not rest” (divulgar, desinvestir, não vamos parar, não vamos descansar). O slogan dos jograis resume a reivindicação-chave: que as universidades deixem de investir em empresas que direta ou indiretamente subsidiam a invasão israelense. Aí a política encontra o dinheiro.
As universidades dependem de anuidades estudantis e doações de ex-alunos e mecenas. O movimento pró-Israel conclama as fortunas filantrópicas a deixarem de doar às instituições que tolerarem protestos pró-Palestina. O outro lado demanda delas um boicote a Israel, via retirada de investimentos. Os opostos se encontram nesse tema monetário. Ambas as manifestações exigem ações opostas, de consequências para os cofres universitários.
O coquetel política-finanças apareceu no ano passado, quando Harvard, MIT e Universidade da Pensilvânia ficaram entre a cruz e a caldeirinha. Grandes doadores ameaçaram cancelar aportes às universidades se os protestos pró-Palestina continuassem. Em simultâneo, as reitoras foram convocadas ao equivalente a uma CPI no Congresso. Temendo implicações jurídicas para suas escolas, foram lacônicas, sem secundar o clamor da parlamentar republicana que as interrogou para que definissem os protestos como antissemitas.
Foi um duelo de mulheres. A republicana na acusação, as reitoras na defensiva. A mais atacada delas, negra, foi a de Harvard, submetida a campanha persecutória que a sangrou em público antes que se visse forçada a renunciar, o que sua colega da Pensilvânia fizera mais prontamente.
O episódio foi mais um round ganho pelos republicanos contra seu maior inimigo nos campi, a proliferação do politicamente correto e das ações afirmativas.
O conflito partidário atravessa as universidades desde a eleição de Donald Trump e se intensifica com a proximidade eleitoral. Não à toa, as manifestações crescem agora que a disputa presidencial bate à porta. O encavalamento de assuntos é inevitável.
Interpretações
No passo do protesto, anda a guerra de versões. Vídeos do lado pró-Palestina filiam o movimento a uma linhagem humanitária e pacifista, associando-o às campanhas pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã, e exaltam o compromisso com uma causa justa.
Em contraponto, republicanos, a Fox News e organizações pró-Israel denunciam supostos atos de intimidação a alunos judeus e propaganda antissemita.
Tampouco faltam teorias conspiratórias. As fundações Ford, Rockefeller ou a de George Soros teriam comprado as tendas, e o hino “do rio ao mar” expressaria o intuito de erradicar o Estado de Israel.
Reações
A polícia baixou em vários protestos. É tradição norte-americana responder a movimentos sociais com cassetetes. Foi assim no caso dos direitos civis, quando também se ocuparam espaços universitários. A fila da lei e da ordem é longa, mas o sistema repressivo norte-americano apertou depois do 11 de Setembro. Quando há temas islâmicos na jogada, tomar manifestante como inimigo potencial é a regra.
A repressão se espalhou, sem ser produto de decisão unificada. Nos Estados Unidos, as forças de contenção a protestos são variadas: há estaduais, municipais e das próprias universidades.
As universidades se dividiram quanto ao seu uso. Ocupações são pepino para qualquer reitor —os brasileiros bem o sabem. Impor a volta da normalidade via punições exemplares e uso da força custa a reprovação de parte da comunidade universitária e da opinião pública, mas tolerar prolonga os protestos e serve de efeito demonstração para novos.
Nessa encruzilhada, houve instituições abertas ao diálogo e as de linha dura. Brown, em Rhode Island, abriu negociações, e o Wesleyan College, da Geórgia, foi firme contra a truculência policial. O Emerson College também, depois da detenção de mais de cem acampados em um beco perto dos dormitórios estudantis em Boston. Em escolas urbanas como essa, os prédios universitários se misturam à cidade sem os muros que insulam os campi. Aí a decisão repressiva escapa ao controle universitário.
No rumo oposto foi Emory, de Atlanta. Até a chefe do Departamento de Filosofia foi detida pela polícia chamada pela direção do campus. O Barnard College, em Nova York, deixou estudantes detidos sem teto ao saírem da prisão perto da meia-noite. Columbia, onde o acampamento virou ocupação de prédio, fechou o campus, converteu as aulas em online e pôs a polícia para retirar os estudantes.
Desfechos
A sina de protestos é crescer ou desmilinguir.
Tem vezes que acaba por desalento. O Occupy foi vencido pelo general Winter: o frio expulsou os manifestantes. Os atuais podem se mandar com as férias de verão. O acampamento de Brown já se desarmou.
Outra via é a engorda. A repressão pode atrair novos movimentos e apoiadores, que se juntam por solidariedade. É ignição para ciclos de protesto. Aí cresce a variedade de participantes e, com eles, das reivindicações.
A magra lista inicial das manifestações pró-Palestina já engordou com cessar-fogo e a criação do Estado palestino. A paz, além disso, é tema de apelo mundial. É paradoxal, mas pode ser que essa geração siderada em particularismos abrace uma causa universalizante.
A terceira possibilidade é o contrário. A generalização das hostilidades entre movimento e contramovimento. A reação dos pró-Israel na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles) é mostra, mas não é início. A ACLED já contou 39 conflitos violentos. A carta da radicalização está nos dois baralhos.
Seja como for, o assunto bate à porta da Casa Branca. A gestão Joe Biden anda sobre gelo fino. Não pode se dar ao luxo, em corrida tão apertada, de perder eleitores de um lado nem do outro. Talvez por isso, o presidente esteja na moita, sem falar dos protestos. Dilma Rousseff tentou essa estratégia em 2013, achando que o abacaxi era alheio. Acabou no seu prato.